Passei pouco tempo, por enquanto, com FIFA 18. O suficiente, apenas, para lhe medir o pulso, tomar nota do primeiro impacto, tentar perceber se, à primeira, há alguma coisa ali que justifique uma análise que não seja apenas, como por vezes – muitas vezes, demasiadas vezes – estes jogos parecem ser, uma atualização superficial da do ano passado, afinações numéricas e pouco mais. O suficiente, também, para ser humilhado pelo meu irmão em meia dúzia de partidas em que as glórias do meu passado não chegaram para fazer mossa num presente sombrio. Estarei a juntar-me a esse pouco distinto clube de gigantes adormecidos que inclui os Liverpools, os Torinos e os Sportings deste mundo?
Setembro é um mês especial. Acabam as férias e volta o trabalho e a escola, dando início a um período algo traumático que apenas sossega, aos olhos de muita gente, perante a aproximação do Natal. Acaba a modorra artística do Verão, quando apetece mais beber um daiquiri de maracujá ou coisa que o valha em frente à praia do que estar sentado em frente à televisão ou numa sala de cinema, e começa a nova temporada televisiva e a caça-ao-Óscar do cinema, acompanhadas pela rentrée da literatura, da música, da pintura, etc. É uma altura que muitos encaram como (mais um) novo começo, aproveitando para fazer resoluções que já parecerão ideias estrambólicas e oh-tão-inocentes quando chegar outubro, como as de janeiro caducaram em fevereiro. Os dias encurtam e, com o solstício do Outono, começam-se a fazer os preparativos porque se sabe que vem aí o Inverno.
E, claro, sai para os escaparates um novo FIFA, essa máquina colossal de fazer dinheiro da EA Sports, destinada a manter-se nos tops de vendas até que seja novamente setembro e o novo substitua, uma vez mais, o velho.
O velhinho FIFA 98 é o primeiro jogo que me lembro de comprar para a primeira Playstation (comprar, como quem diz fazer com que mo comprassem, bem entendido). Eram tempos gloriosos, esses do final dos anos 90, em que a expressão rede social significaria provavelmente pôr mais que uma pessoa numa daquelas camas baloiçantes entre árvores, a internet era uma abstração e ainda havia quem lesse jornais. Em Portugal, a febre da Expo invadia o país, e em França um geniozinho da bola com dois nomes começados por Z levava o país à glória. A minha geografia pessoal, por sua vez, levava também o seu arrombo: foi em 1998 que nasceu o meu irmão.
Ser irmão mais velho, e especialmente ser um irmão consideravelmente (uma década, para ser exato) mais velho, tem um número não despiciendo de vantagens. Tem a vantagem de, durante muito tempo, sabermos mais e sermos mais fortes, o que torna qualquer quezília fraternal num ato de rebelião do mais fraco contra o mais forte facilmente suprimido. Há também uma certa superioridade moral que demora anos até se esbater: somos sempre mais velhos o suficiente para termos razão, e o outro mantém-se sempre tão mais novo que, mesmo com a dúvida ocasional, não tem como não acatar as nossas decisões e vê-las como cheias de sabedoria milenar.
No que aos videojogos diz respeito, ser o irmão (bem) mais velho tem a inegável vantagem de fazer com que o nosso domínio em qualquer modo competitivo a dois seja absoluto e incontestado. Durante anos, passou-se isso com jogos de um sem-número de géneros – excetuando, talvez, o esmagar de botões ao acaso que permite mesmo a quem não sabe nada do assunto vencer partidas, às costas de golpes mirabolantes, em jogos de porrada como Tekken ou Soul Calibur – e com os de futebol em particular. No final da primeira década deste século, quando o meu irmão começou a ter destreza suficiente para jogar PES ou FIFA (nada mais aborrecido do que a eterna questão, qual ovo ou galinha, entre qual dos dois é melhor; aceitemos de uma vez que, tal como no futebol, nem sempre ganha o mesmo – a menos que se chame Olympiacos -, nem sempre ganha o melhor) com alguma desenvoltura, as cabazadas tornaram-se o prato do dia.
Durante anos, encarei qualquer jogo contra o miúdo como uma pura formalidade: a vitória estava garantida desde o apito inicial, restava decidir quais seriam os contornos da goleada. Não havia qualquer incerteza, qualquer emoção, qualquer sobressalto: eu sabia disso e, suspeito, ele sabia-o também. Os golos concedidos eram raros e, quando aconteciam, não tardava a chegar a resposta, em dose dupla, ou tripla, ou vezes dez. Fácil. Como um Benfica-Moreirense, ou algo parecido, não havia grande dúvida de quem sairia por cima da contenda. Sem acidentes cósmicos como o que aconteceu na final da Taça da Liga da última época.
Eis-nos chegados a 2017, e a FIFA 18. Desde há alguns anos que o meu irmão não joga como o Moreirense, tendo subido de escalão gradualmente ao longo dos anos: em 2014 era uma espécie de Rio Ave, em 2015 um Braga, talvez, em 2016 um Porto perante o meu Benfica. Este ano parece ter saído do campeonato nacional.
Jogar contra ele é uma experiência muito diferente agora do que era há dez anos. Centenas (ou milhares ou milhões, já lhes perdi a conta) de horas passadas a colecionar ou trocar cartas no Ultimate Team, o modo de construção de equipas online que se tornou um sucesso gritante no FIFA de há alguns anos a esta parte, quase um jogo dentro do jogo, deram-lhe um à-vontade com a mecânica do jogo que começo a ter dificuldade em acompanhar. O jogo dele refinou-se, tirar-lhe a bola tornou-se um desafio muitas vezes infrutífero, e sei que largar a posse da redondinha significará um período por demais prolongado de jogo de gato e rato em que eu, o gato, sou o Tom para o seu Jerry.
E mais do que isso: a quantidade pouco saudável de tempo que ele passa com o jogo, como passou com os anteriores, faz com que tenha um conhecimento privilegiado das suas manhas, e tanto do sucesso no FIFA depende de saber que tipo de bola entra ou não, qual a melhor forma de colocar o remate, quais são as pechas da inteligência artificial e quais as novas limitações da mecânica de jogo.
E perco uma partida, e outra e outra, ainda sem perceber o que correu mal com a primeira. Posso ter mais remates, mais posse de bola, mais remates ao ferro (e, dando fé nas minhas primeiras horas com o jogo, os postes e as traves parecem atrair a bola neste FIFA 18), e ainda assim não saio vergado. Sabe quem anda nisto há algum tempo que perder num videojogo tem uma diferença crucial em relação a perder num jogo de futebol a sério: após a derrota, a necessidade de salvar a face é tão grande e é tão fácil fazer outro jogo, e mais um e mais outro, que eventualmente amealhámos uma coleção em crescendo de humilhações que só terminam com um brusco abandonar da sala ou com um comando estilhaçado na parede (fantasiamos, que comprar um comando novo não é muito simpático para a carteira).
Estou tão distraído pelas derrotas, e a pensar em como tal foi possível, outra vez, que nem presto muita atenção aos novos pormenores: sim, parece que agora é possível predefinir as substituições para fazê-las com apenas dois botões durante as partidas, numa daquelas alterações tão evidentes e tão úteis que ficamos todos a pensar como é que demorou mais de vinte anos a ser introduzida; sim, há agora uma contagem decrescente que nos avisa de quando o jogo vai recomeçar e as pausas nos jogos online não acontecem imediatamente, esperando antes por uma ocasião apropriada; e sim, há pequenas alterações na jogabilidade, que fazem com que o que funcionava no ano passado não funcione tão bem agora e vice-versa, como acontece ano após ano. Olhando de relance, no entanto, este parece ser mais um ano de evolução sem revolução para o FIFA, e é difícil ver alguma coisa a mudar significativamente pelo menos antes da chegada de uma nova geração de consolas.
Mas estou a fumegar demasiado com as derrotas para pensar demasiado no assunto. Preciso de treino regular, de conhecer o jogo por dentro, preciso de uma proverbial “chicotada psicológica”, ou de encontrar um xeique de bolsos sem fundo que venha ao meu auxílio. Estou como o PSG dos tempos gloriosos do Lyon, e quero ser o PSG insuflado de agora. O orgulho de irmão mais velho está ferido: o que me fizeste, FIFA 18?
Versão jogada: Playstation 4















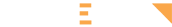
Comentários