Na segunda metade do meu tempo com Destiny 2, salvei o universo. Nada de excessivamente original, claro: “salvar o universo”, ou a sua mais modesta variante “salvar o mundo”, tem barbas como ponto de partida para incontáveis filmes, livros ou videojogos. Somos frequentemente postos nesta posição: tudo – mesmo tudo – dependente de nós, heróis solitários frente a hordas de inimigos e obstáculos sem fim, valentes sem voz (uma daquelas regras não-escritas dos videojogos; estamos demasiado ocupados a dizimar tudo o que se mexe para falar, pá) mas com gosto.
É uma daquelas coisas em que os videojogos em geral, e os shooters em particular, se distinguem: a destruição maciça, pelo menos nas campanhas para apenas um jogador, é uma coisa pessoal. Trabalhamos em equipa, sim senhor, mas essa equipa acaba por fraquejar no final, vergada pela escala da adversidade – em Destiny 2, os nossos compinchas batem-se com bravura no ataque final ao temível mas não especialmente forte ou impenetrável Ghaul, mas sucumbem antes do último confronto, e volta tudo a depender de nós, ainda com algum combustível no depósito após centenas de tiros certeiros nas muitas horas anteriores. Chegamo-nos à frente, destemidos, com a certeza de que tudo há-de correr pelo melhor, ou então tudo há-de dar para o torto mas haverá um checkpoint para mudar o rumo da história, tantas vezes quanto necessário. Seria interessante se a realidade se regesse por esta lógica também: na hora decisiva da Segunda Guerra Mundial, nem Churchill atacou Berlim sozinho, nem havia forma de voltar para trás se Hitler levasse a sua a diante. Os videojogos são mais generosos, levam-nos pela mão. Salvar o universo, mais do que uma luta pela sobrevivência, é uma inevitabilidade.
Mas isso não interessa nada.
Nada na segunda parte de Destiny 2 é significativamente diferente do que o que o precede. Há uma ou duas secções em que, aos comandos de um tanque, conseguimos provocar o dobro da destruição em metade do tempo, pouco importando se pela nossa frente há um robô solitário, um canídeo raivoso ou uma máquina de guerra de ferro maciço – todos regressam ao criador sem grande esforço. Mas é isso; nota-se, ao fim de algum tempo, que inovação e surpresa não estavam no topo das prioridades da Bungie, pelo menos não no que ao jogador solitário diz respeito.
Não desaparecem aqueles momentos de quase transcendência em que tudo funciona em uníssono com efeito espetacular, embora mesmo isso vá perdendo frescura com o passar das horas. Por muito divertido que seja, há um momento em que a lógica de entrar numa sala nova, disparar até não sobrarem inimigos e procurar a arena seguinte para repetir o processo perde o impacto inicial. As arenas podem ser maiores ou mais pequenas, mais ou menos coloridas, e o adversário-do-dia pode ser mais ou menos assustador, mas não deixamos de estar presos num loop contínuo de devastação, e o único caminho é para a frente. A catarse trazida pelo consumo desbragado de cartuchos é bem-vinda, mas mesmo a catarse tem um limite. E acabada a campanha, vencida a guerra, o que resta?
Imenso, pelos vistos.
Há um mundo de possibilidades pela frente quando a história termina. Sobram missões secundárias, com certeza, à nossa espera se estivermos interessados em vinte ou trinta minutos de puro tiro-neles desmiolado; há eventos aleatórios multijogador a toda a hora, mais meia hora de extermínio, e uma recompensa no fundo do túnel; não faltam iconezinhos convidativos, em cada planeta: Destiny 2, como muitos jogos modernos, diz-nos constantemente para fazer isto e fazer aquilo. É difícil resistir: vá lá, só mais uma missão. Só mais um ícone. Só mais um.
Multiplicam-se as milestones, desafios variados com níveis díspares de interesse mas que cumprem a função de alargar, e muito, o tempo de jogo. Os modos online jogador-contra-jogador e jogador-contra-o-universo permitem, em teoria, alargar ad infinitum as horas passadas na matança. No meu caso em particular, a combinação fatal entre uma natural falta de talento para os modos competitivos online e um ainda mais natural desinteresse pelo grind, aquela busca permanente por melhores armas, melhores capacetes, melhores sapatos e, cereja no topo do bolo, melhores formas de tingir o supracitado equipamento de outras cores, reduz em muito o apelo do jogo-após-o-jogo, mas para a crescente comunidade de jogadores de Destiny 2 e jogos semelhantes, o apelo é irresistível.
No futuro, mais conteúdo virá: mais missões para desbravar, mais inimigos para matar, mais armas, mais formas de melhorar as nossas stats, mais cores, quem sabe, com que abrilhantar a nossa última espada. Haverá mais ícones para perseguir, mais formas de passar o tempo, quem sabe mais planetas para explorar. Ao mesmo tempo, mais jogadores virão, mais cópias do jogo serão vendidas, mais dinheiro entrará nos cofres da Bungie e da Activision. Digo-o sem cinismo nem hipocrisia, ainda que com uma ponta de saudosismo por tempos mais simples. É inevitável, no mundo dos videojogos de hoje, e especialmente na categoria dos chamados AAA, de grande orçamento, grandes riscos e grandes potenciais recompensas, é assim que funcionam as coisas: mais é mais.
Por mim, dou-me por satisfeito com as mais de vinte horas que passei com Destiny 2. O pouco interesse no que resta não apaga o fascínio que em alguns momentos, especialmente enquanto o efeito ainda era total, o jogo da Bungie provocou em mim. Posso não me deixar ficar para lá dos créditos, mas não dou por desbaratado o dinheiro que paguei pela admissão. E mais nada.
Também deve gostar:
Versão testada: PS4
Everybody’s Golf: Golfe para Todos? (análise ao videojogo)
Knack 2: O Tamanho Importa (análise ao videojogo)













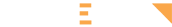
Comentários