“Life imitates art”, escrevia Oscar Wilde ainda no século XIX, no ensaio “A Decadência da Mentira”, pondo cobro a séculos de pensamento filosófico que propunha precisamente o oposto. Partamos de dois pressupostos, então: o primeiro, de que Wilde tinha razão e realmente a vida imita a arte mais que a arte imita a vida, e o segundo, de que no eterno debate sobre se os videojogos merecem ou não ser tratados como arte vencem os proponentes do “sim”.
Partamos desses pressupostos, dizia, e imaginemos então a vida de Mark Cerny, americano da Califórnia e pai, espiritual ou não, de muitas das criações mais marcantes da vida da japonesa Sony e, em particular, das várias vidas da Playstation desde 1996, entre as quais um certo marsupial que foi o mais próximo que a primeira dessas vidas teve de uma mascote que rivalizasse com Mario e Sonic e que, feito fénix, renasceu recentemente com surpreendente sucesso crítico e comercial (Crash Bandicoot N’Sane Trilogy tem sido uma das histórias felizes do ano).
Perante Mark Cerny surge, certo dia, uma bifurcação: pela direita o caminho é seguro, um trilho frequentemente percorrido no passado, sem sobressaltos nem armadilhas; pela esquerda escondem-se incontáveis precipícios e uma estrada sem garantias, nem sequer a de que o percurso tem realmente saída. É um momento matrixiano, se quisermos, neste videojogo tornado vida de Cerny: o comprimido azul ou o comprimido vermelho, Mr. Anderson?
Crash Bandicoot, a criatura cor-de-laranja felpuda sem medos nem pudores, não hesitaria um milissegundo e gingaria a toda a velocidade pelo caminho da esquerda ou, analogamente, engoliria o comprimido vermelho sem pedir um copo de água sequer. Mark Cerny, por outro lado, tem um caderno de encargos diferente, família, patrões a quem prestar contas e objetivos comerciais traçados, e, embora a sorte proteja os audazes, como se diz, os tempos não estão para riscos megalómanos. Cerny chuta as ambições de outrora para debaixo do tapete e guina à direita. O resultado é Knack, jogo de lançamento da quarta Playstation que pouca gente impressionou, e agora Knack 2, a sequela que ninguém esperava.
Knack, o primeiro, vendeu quase dois milhões de exemplares em todo o mundo. Talvez “ninguém” seja exagero.
Ao jogo, então: sobre o primeiro, Mark Cerny disse que a sua ideia era criar uma aventura que todos pudessem jogar (toda a família?), numa tentativa algo pueril de recriar o que a rival Nintendo vem fazendo com frequentes bons resultados há gerações – de consolas e não só. Em relação à sequela pode-se sem contemplações afirmar o mesmo: Knack 2 é um jogo para ser jogado por todos (e até por duas pessoas ao mesmo tempo, se quisermos, em modo cooperativo), com uma curva de aprendizagem diminuta e um muito generoso sistema de dicas (que, abençoadamente, podem ser desligadas a qualquer altura) e checkpoints, para que nunca estejamos perdidos durante muito tempo nem fiquemos demasiadamente frustrados em face de um qualquer obstáculo mais complicado (“morrer”, em Knack 2, raramente significa voltar mais que trinta segundos atrás).
Este é um jogo destinado a maravilhar crianças que nunca pegaram num jogo de plataformas anteriormente e a enfastiar os outros, jogado com uma espécie de indolência de quem já viu tudo isto feito anteriormente, com mais requinte, sofisticação ou estilo, e cuja memória muscular desenvolvida ao longo dos anos é no geral suficiente para evitar sobressaltos e levar a aventura de Knack a bom porto, independentemente do nível de dificuldade escolhido.
Ao mesmo tempo, Knack 2 surge como uma obra dolorosamente consciente das críticas recebidas pelo seu antecessor: havia um desequilíbrio entre o tempo dado aos segmentos tradicionais de plataformas e aqueles de ação “tiro-neles” puro e duro, com clara vantagem para estes últimos? Aqui estão largos troços de escaladas, estruturas periclitantes e obstáculos vários. Reclamava-se de um défice de diversidade (“É difícil acreditar que salvaste o Mundo. Tudo o que sabes são três socos e um pontapé”, alguém atira a Knack perto do início do jogo, num divertido momento de auto-paródia)? Aqui, Knack, para além da alternância pequeno-grande-menor-maior, que vai ainda assim gerando uma dinâmica interessante, faz-se Homem da Renascença e conduz tanques, controla robôs gigantes e até pilota aviões, numa tentativa desenfreada de mostrar serviço.
Tudo isto sem se libertar da amarra principal: por baixo da ilusória variedade de ações, o que há aqui é um jogo profundamente linear, marcadamente convencional, fatalmente marcado pelo encadeamento familiar que consiste em limpar uma área, passar para a seguinte, resolver um puzzle, saltar para a próxima área e repetir. Esta é, bem sabemos, uma maldição comum e transversal a grande parte dos videojogos ditos de ação ou plataformas, mas é uma maldição à qual se aplica muitas vezes alguma maquilhagem, tratando de a disfarçar de alguma forma, seja através de uma mecânica especialmente memorável (algo como Portal vem à cabeça) ou de ambições cinematográficas mais ou menos bem conseguidas (é o que faz agora a Naughty Dog, numa prova cabal de como os caminhos pós-Crash Bandicoot se fizeram de formas diferentes), por entre outras estratégias.
Knack 2 não se destaca por uma razão nem tampouco pela outra – há uma historieta aqui, o típico vamos-salvar-o-mundo-dos-mauzões-cujas-motivações-não-são-exatamente-claras, que vai ficando progressivamente mais cartoonesca à medida que as horas de jogo avançam, escrita e pensada com um espírito tão infantilizado que é difícil acreditar que o grosso da equipa de produção do jogo é constituído por elementos japoneses, cujo estilo de humor peculiar não pica o ponto em altura alguma, substituído antes por meia-dúzia de one-liners vindos habitualmente do tio de Lucas, o dono de Knack, que se assemelha ao que aconteceria a Guybush Threepwood, o protagonista dos saudosos Monkey Island, se tivesse parado de prestar atenção à alimentação. Não há qualquer pathos nem qualquer ambição nesta história, no entanto, e a sua função não é mais que funcional, servindo apenas como rápido limpa-palato entre níveis.
Ainda assim, sejamos justos: vender gato por lebre é algo de que a Sony não pode ser acusada. Pôr no mercado um jogo com mais de doze horas de duração por pouco mais de metade do valor habitual (39,99€) é, em si mesmo, uma declaração de intenções. A Sony, e Mark Cerny (e sabemos o quão é injusto atribuir a apenas uma pessoa responsabilidades pelo que foi feito por uma enorme equipa) com ela, sabiam exatamente ao que iam, e nisso certamente atingiram o objetivo: não imaginamos um pré-adolescente, e quiçá não só, a levantar qualquer objeção a Knack 2. No ECG do jogador, não se vêm picos taquicárdicos mas também não há quedas arriscadas de frequência. Há uma constância, um embalo suave, reconfortante porque tão previsível quanto confiável. A turbulência fica para mais tarde.















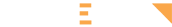
Comentários