
Há milhões de anos, no época geológica do Mioceno, os sistemas fluviais da região que hoje compreende o norte do Brasil corriam em direção a bacias hidrográficas localizadas aos pés dos Andes, e ao norte, para o Caribe. Ao final da mesma época, no entanto, as águas deram a volta, passando a correr em direção ao leste — e criando o Rio Amazonas que conhecemos, que conecta os Andes à margem equatorial do Oceano Atlântico.
Estudos haviam proposto que a mudança repentina de trajeto teria sido provocada por alterações graduais no fluxo de metal derretido situado abaixo da América do Sul. Agora, um novo modelo sugere que mecanismos mais familiares, como erosão, transporte e deposição de sedimentos da Cordilheira dos Andes tenham sido responsáveis pela reversão do fluxo da água no norte do subcontinente.
Apesar de a porção central da cordilheira ter começado a se erguer há cerca de 65 milhões de anos, a porção norte dos Andes deu início à sua escalada alguns milhões de anos depois, de acordo com o geofísico Victor Sacek, da Universidade de São Paulo. Em artigo publicado online no periódico Earth and Planetary Science Letters, o pesquisador descreve os resultados da simulação de computador idealizada por ele, demonstrando a evolução do terreno sul-americano nos últimos 40 milhões de anos (depois, portanto, que a região central dos Andes se elevou, mas antes da elevação do norte da cadeia montanhosa) com base na interação entre o clima, o crescimento dos Andes e alterações na crosta continental.
Ladeira abaixo
Previamente ao trabalho de Sacek, pesquisas de campo propuseram que o Rio Amazonas não ganhou seu formato atual até cerca de 10 milhões de anos atrás. Antes disso, a água das chuvas da região norte do Brasil escoava em direção a imensos lagos formados à beira da Cordilheira dos Andes e, então, dirigia-se ao norte, para o Mar do Caribe. Para Sacek, tais lagos foram originados de uma depressão geológica, por sua vez, fruto da ação do peso da própria cordilheira sobre a crosta terrestre. Porém, aos poucos a região mais baixa se elevou, e os lagos deram lugar a uma vasta região pantanosa — o sistema Pebas (cuja área, estimou o estudo, seria equivalente à do Egito ou maior).
Em seguida, a paulatina ascensão do terreno eliminou também essa região pantanosa e mudou o curso dos corpos d’água da região. Sacek e outros pesquisadores apostaram na erosão dos Andes (por exemplo, a chuva capturada pela cadeia montanhosa em processo de elevação) como culpada pela transformação da bacia hidrográfica, e o modelo recentemente desenvolvido pelo cientista brasileiro buscou capturar a evidência encontrada nos registros geológicos.
Assim, após a pressão imposta pelos Andes sobre a crosta formar uma depressão de forma mais rápida do que os sedimentos poderiam preenchê-la, o acúmulo de material trazido da cordilheira pela ação do clima lentamente reergueu o terreno, até o ponto em que este se tornou mais elevado do que a porção leste da bacia amazônica, criando (ao redor de 10 milhões de anos atrás) um declive que se estende dos Andes ao Atlântico.
Jean Braun, geofísico da Universidade Joseph Fourier em Grenoble, França, ressalta a exatidão temporal com que o modelo de Sacek explica a evolução geológica da região amazônica. Para Braun, os processos de erosão e sedimentação inseridos na simulação representam o registro geológico observado: no modelo, a quantidade de sedimentos depositada na foz do Amazonas deveria aumentar com o tempo, algo realmente verificado em cilindros de sedimentos extraídos do local. A taxa crescente de acúmulo de sedimentos pode derivar tanto do longo tempo necessário para que o material se desloque pelo subcontinente (“pulando” de um ponto a outro, até que a erosão o carregue novamente), tanto por uma erosão maior dos Andes causada pelas glaciações que tiveram início há cerca de 2,4 milhões de anos, sugere a geóloga Carina Hoorn, da Universidade de Amsterdã.
Sacek lamenta que seu modelo não seja completamente capaz de reproduzir a evolução espacial do sistema Pebas, a região alagada que precedeu o surgimento do Rio Amazonas. Para tanto, talvez seja necessário incluir alguma influência dos movimentos ocorridos no manto terrestre em futuras simulações, pondera, para que os resultados do modelo correspondam com maior eficácia aos dados geológicos desse sistema. Entretanto, alterações no manto são “difíceis de quantificar e ainda mais difíceis de discernir” no mundo real, diz Braun, o que leva um problema de como inserir tais alterações em um programa de computador.
 Make It Clear Brasil
Make It Clear Brasil
Um apoio ao livre pensamento e a um entendimento do mundo baseado em evidências
 Make It Clear Brasil
Make It Clear Brasil













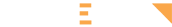
Comentários